No começo, a Boca do Lobo era sobre utopia.
Numa passada ao mesmo tempo arriscada e recompensadora, abriu-se um caminho de desafio às convenções, aos públicos e ao tempo que era então tempo presente.
A premissa era simples: programar uma temporada de música clássica no Lux Frágil. Mas por detrás dessa simplicidade moravam várias camadas de significado. Novos repertórios, formas de estar, de ouvir, de pensar esta forma de arte, tudo se conjugou num ciclo em que Schubert passou a fazer sentido para pensar as migrações e o bar foi o local onde, pela primeira vez, se ouviu a música de uma visionária proscrita há 80 anos. O público acorreu porque era o Lux Frágil, porque era música clássica, mas também porque era música clássica no Lux Frágil. Ou pela pintura do Fidel Évora. Pelos Drumming GP. Pelas mulheres compositoras. Pelos corpos mortos nas praias. Pelas ilustrações do André Carrilho. Por tudo isto e o mais que não sabemos, a Boca do Lobo abriu-se a um público tão plural quanto a vida o pode ser. Da utopia se fazia assim realidade, até que a realidade virou distopia.
Quando re-emergiu da apneia de cinco meses, a Boca do Lobo assumiu-se um espelho da realidade apontado ao céu: o tempo é de contenção, mas a música ao vivo e a presença humana nunca fizeram mais sentido do que agora. Assim, a temporada fez uso do jogo de cintura e ajustou-se, reabrindo com quatro concertos a solo, tão isolados quanto as cadeiras onde se sentou o público que ouviu um quarteto de diferentes instrumentos tocados em vários espaços, partindo do parque de estacionamento sob a lua cheia e aberto ao mundo, mas perante as portas então ainda fechadas do Lux Frágil.
Cumpriu-se a temporada.
A Boca do Lobo acabou sendo um ensaio em tempo real sobre programação para o aqui e agora, seja isso o que for.
Martim Sousa Tavares
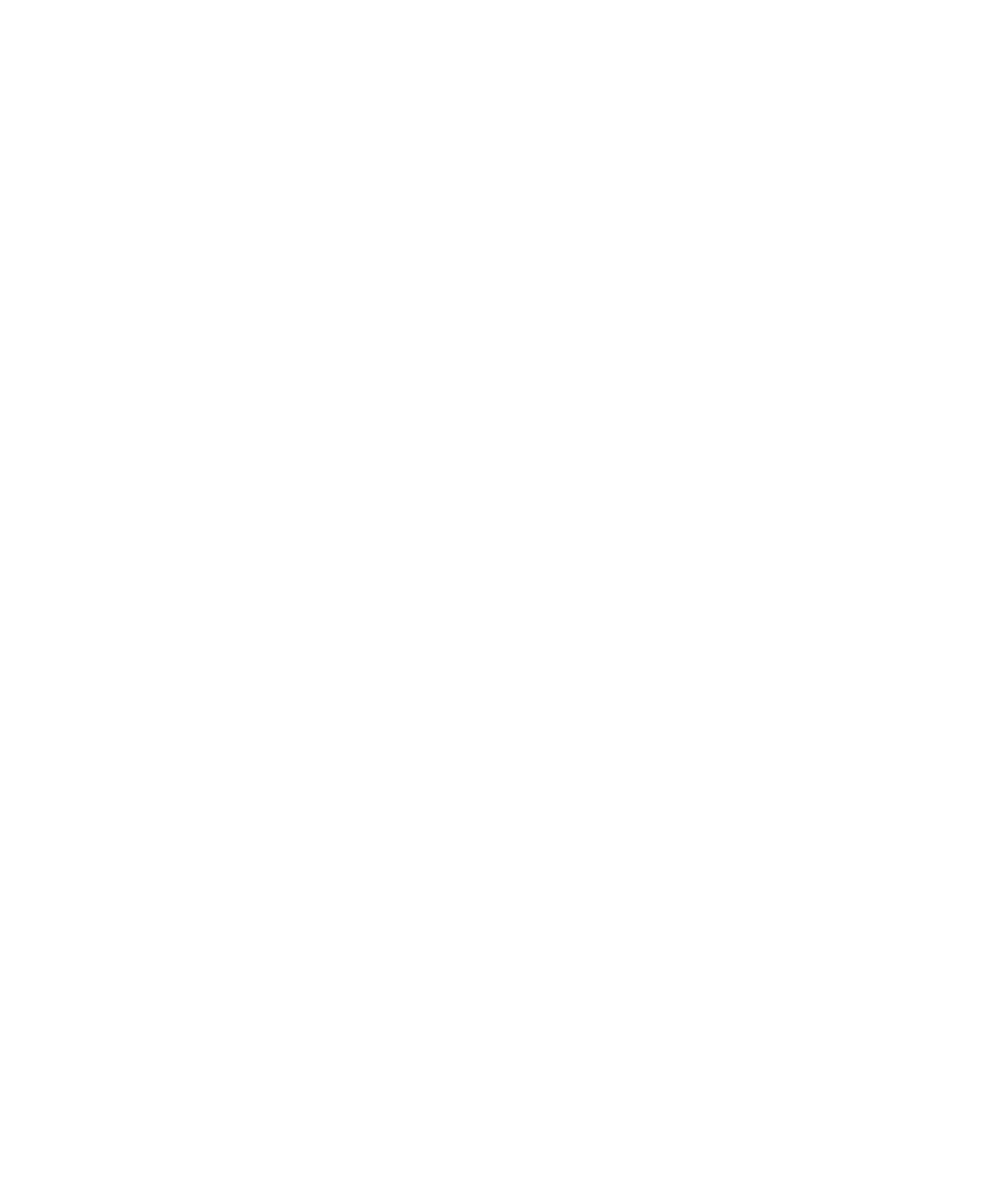
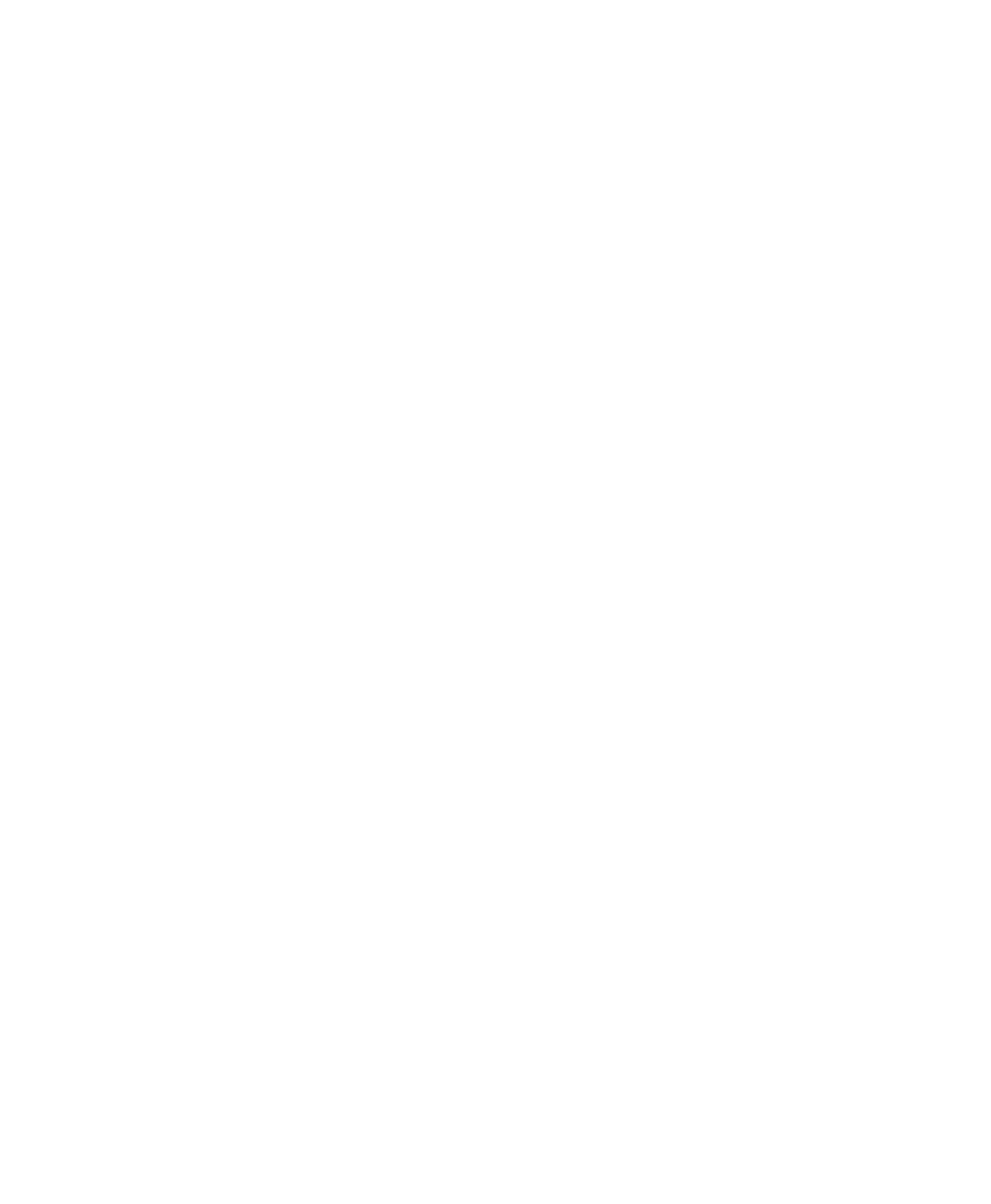
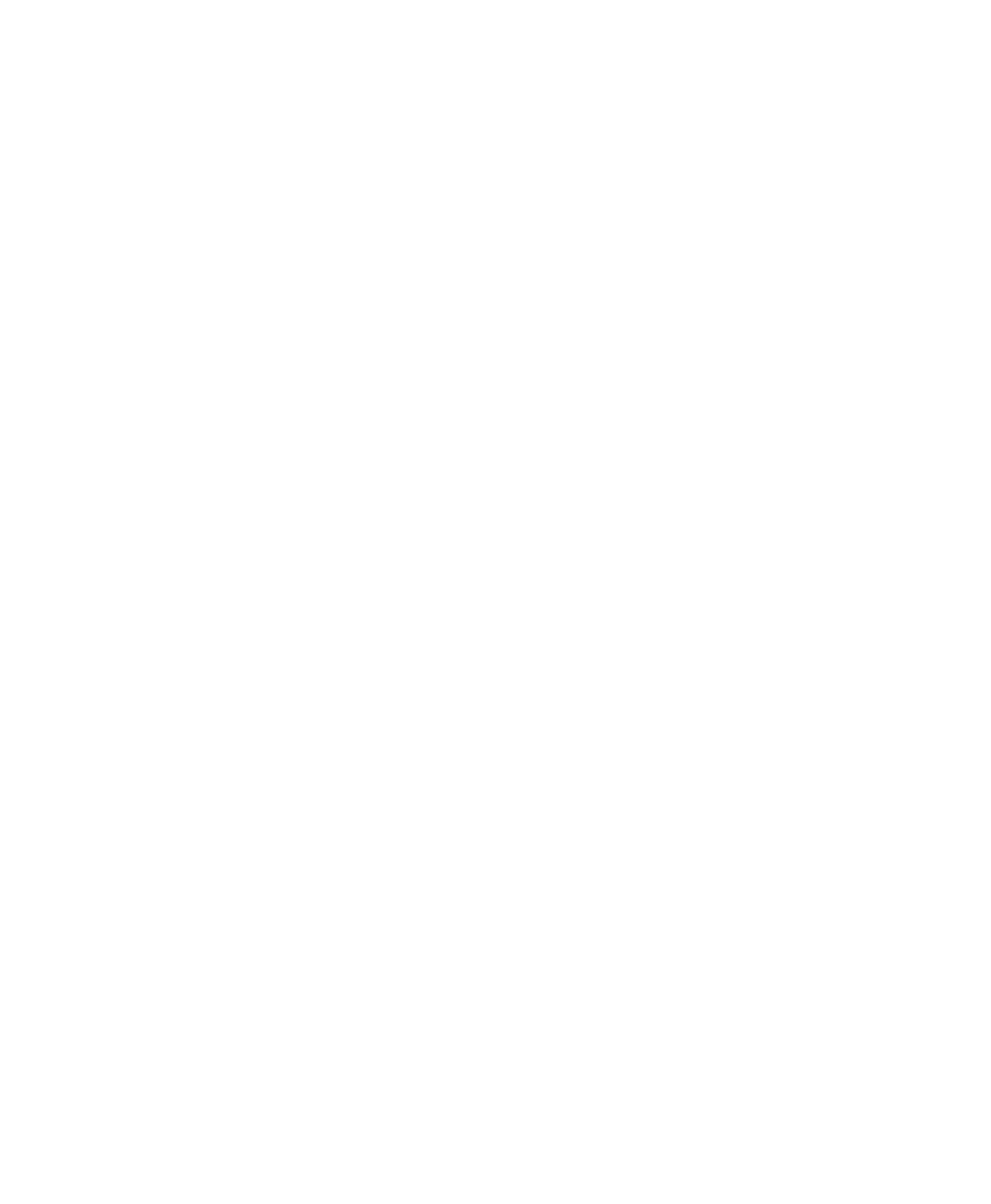
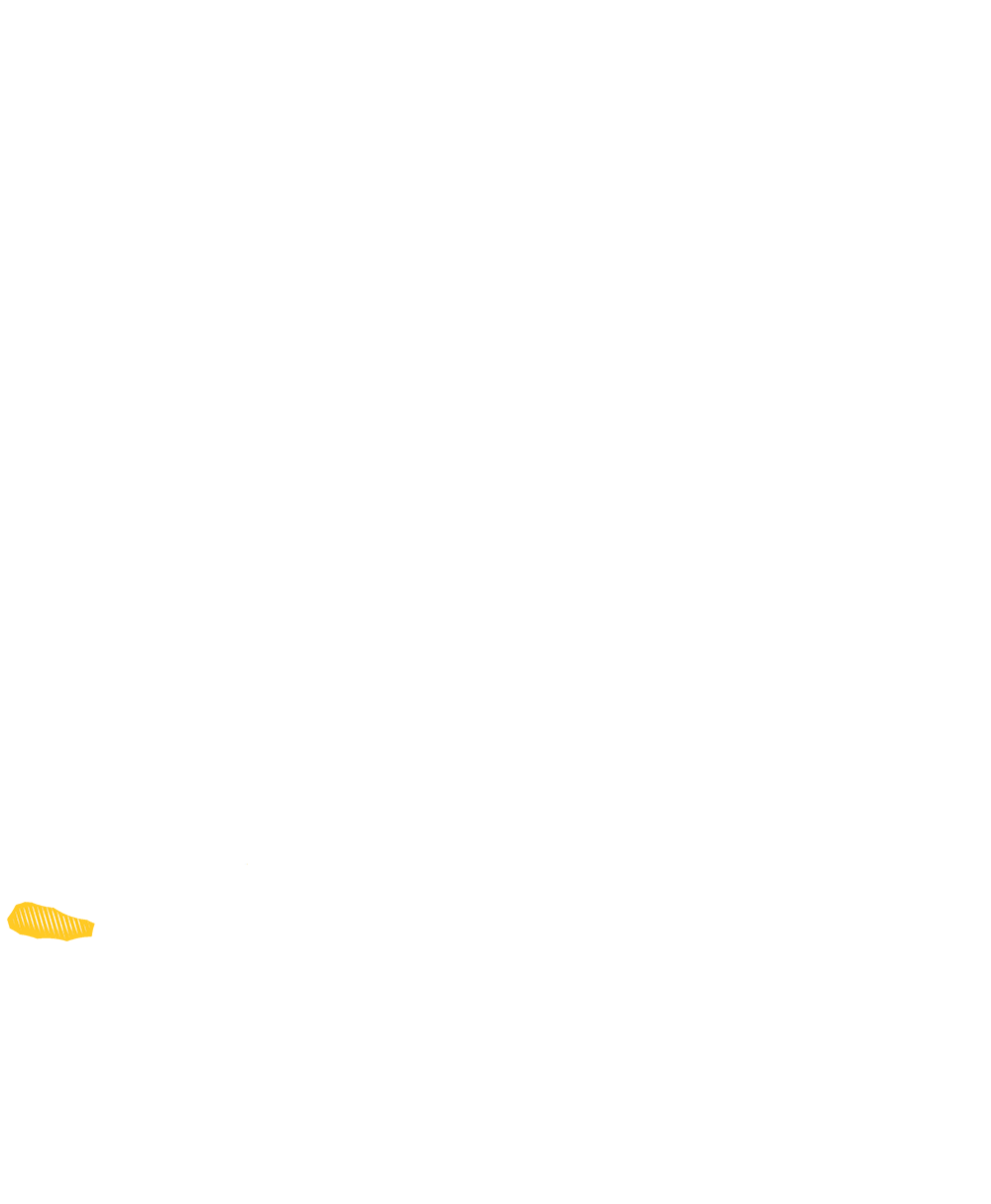
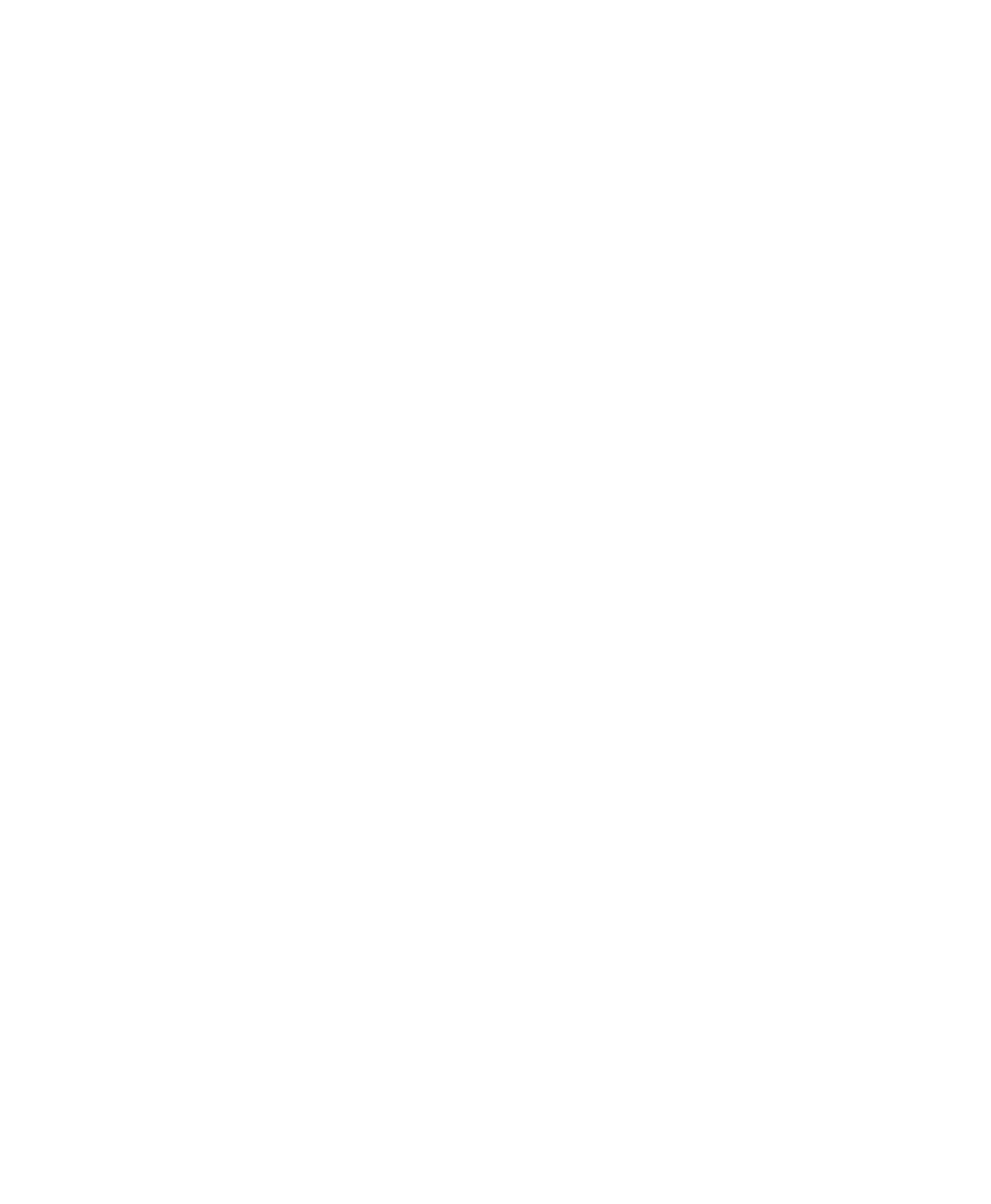
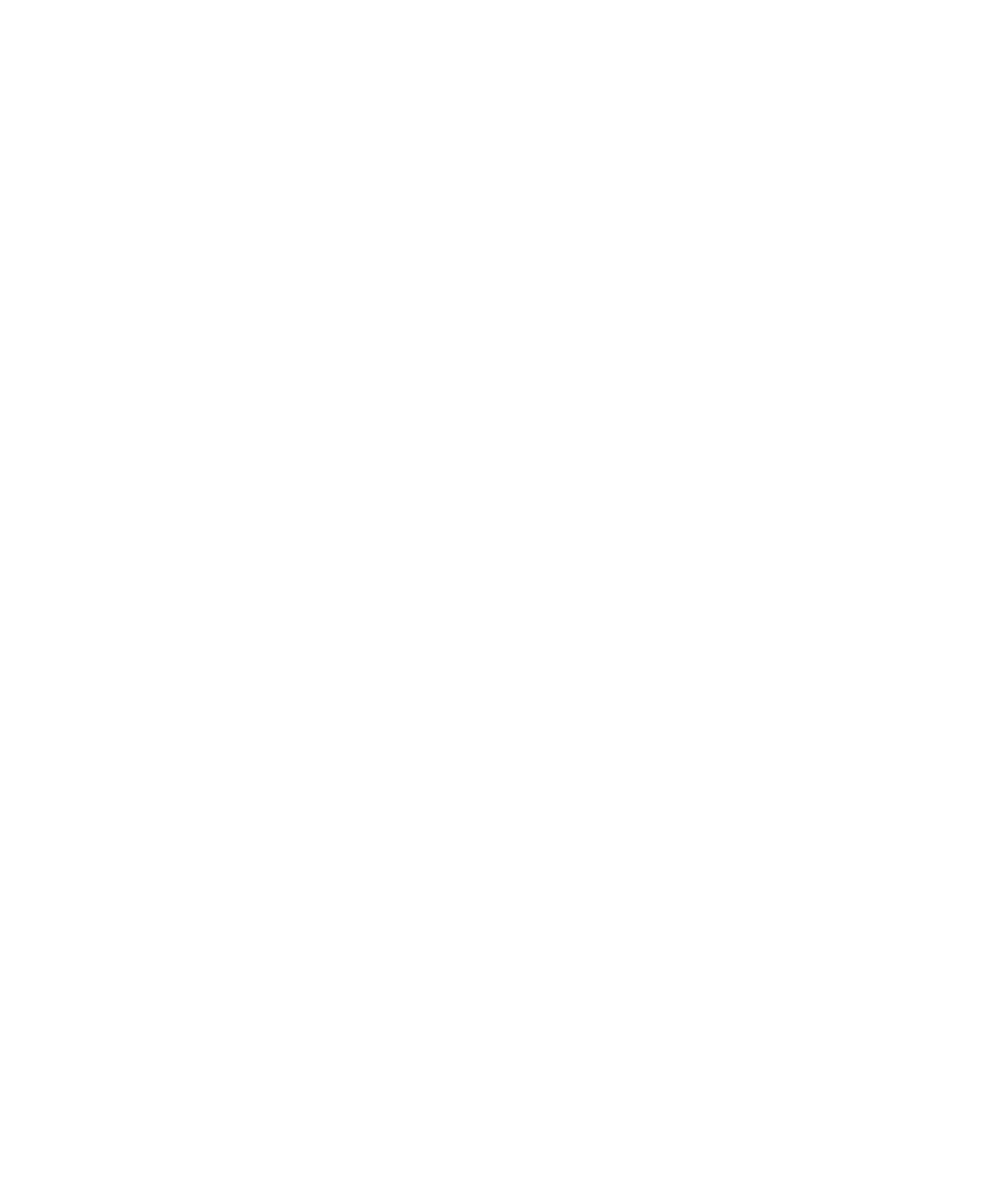

Illustração: André Carrilho













